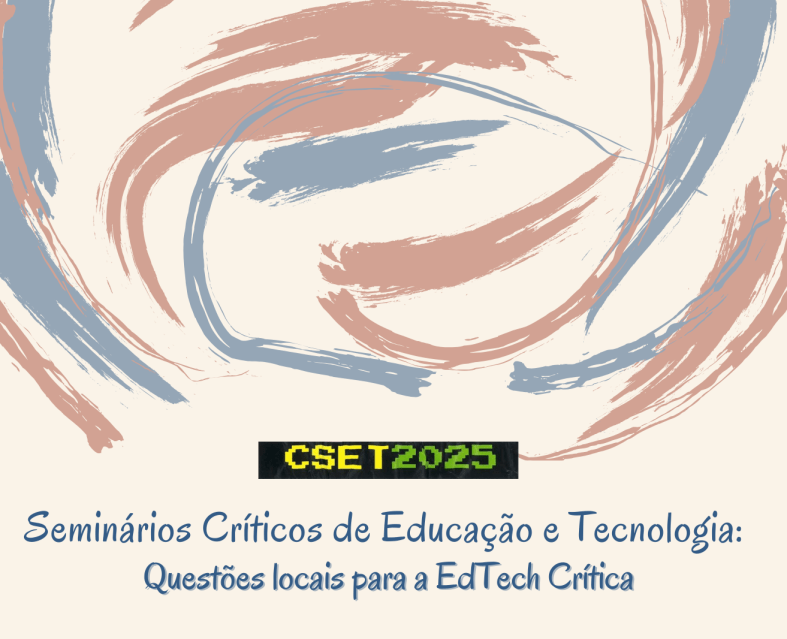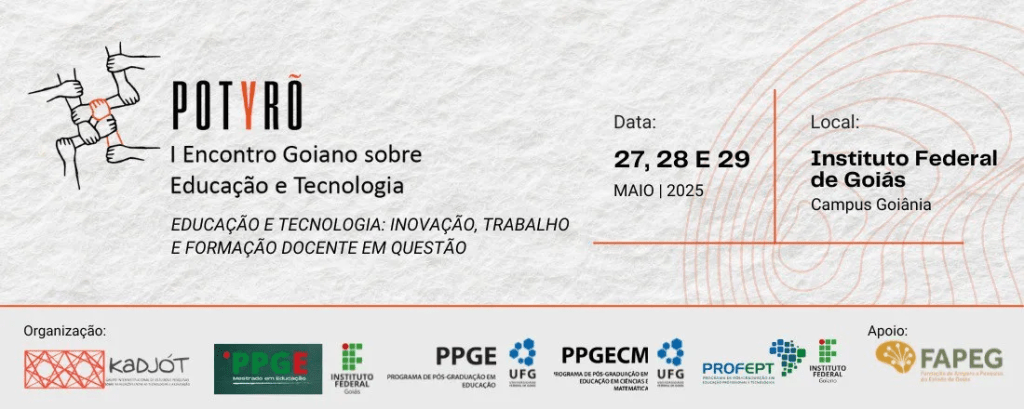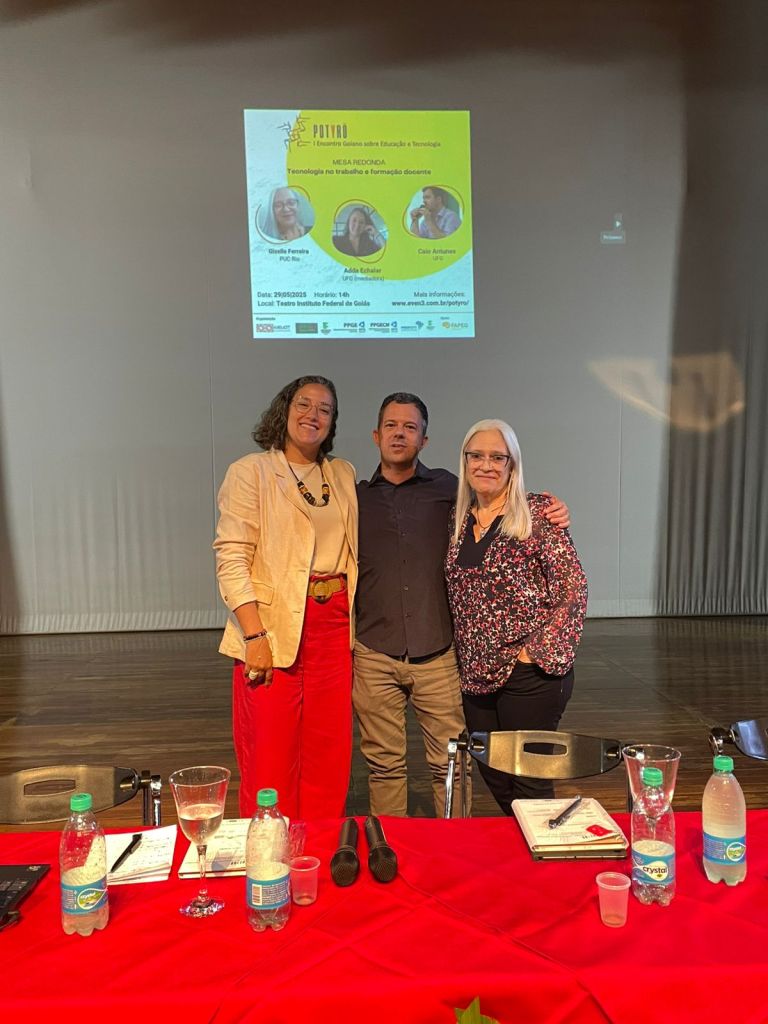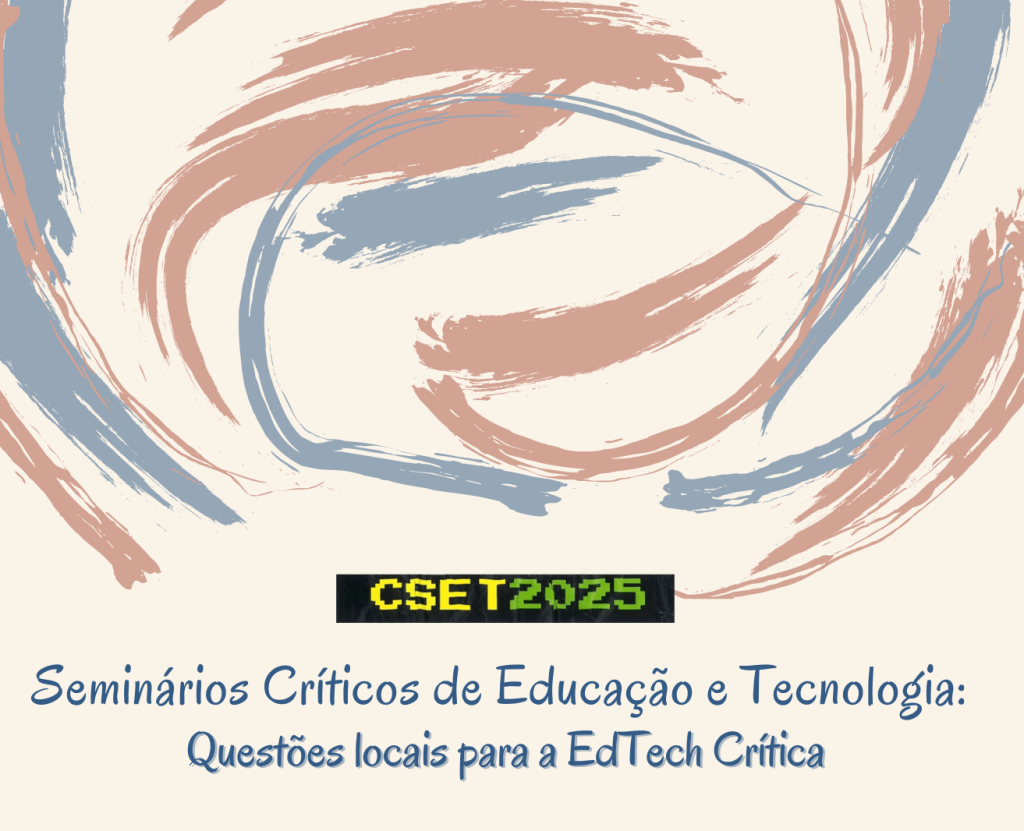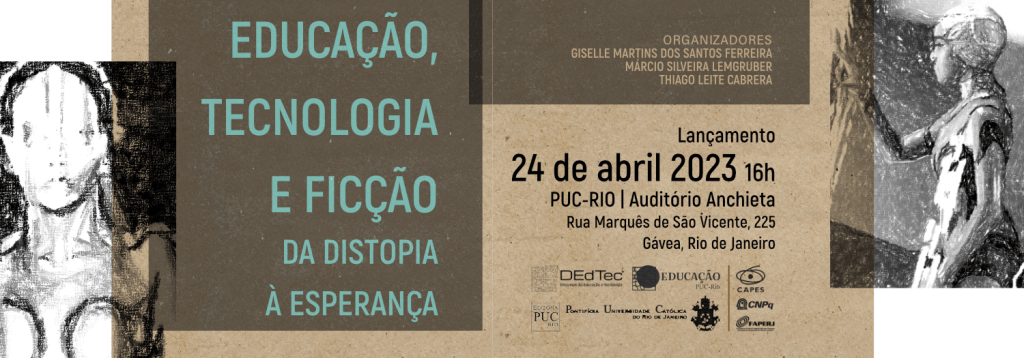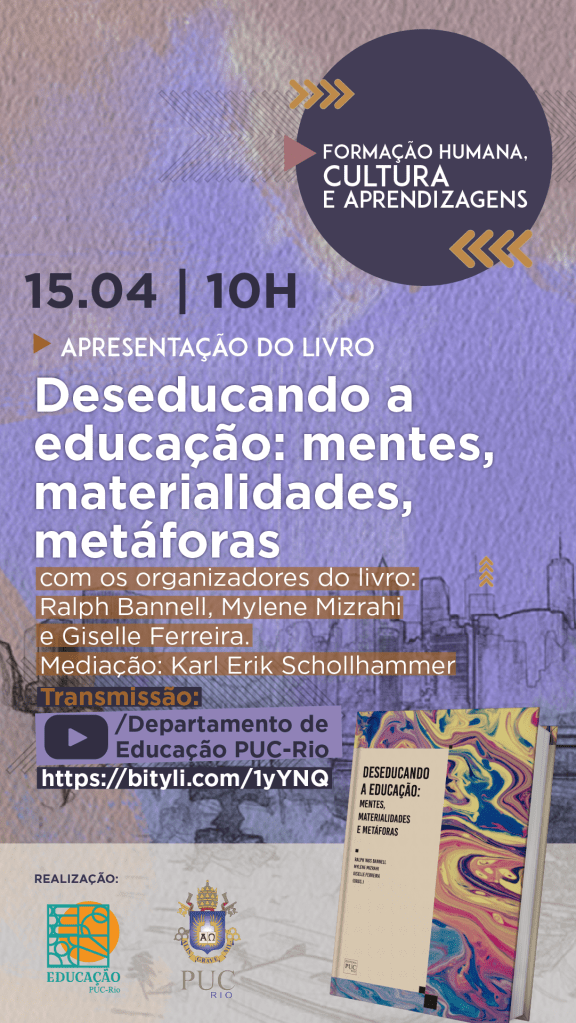Estão abertas entre hoje (21/06) e 05/08 as inscrições para o Mestrado e o Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio, onde atuo.
Tenho participado de processos seletivos para a pós-graduação há anos, e encontro, com frequência, os mesmos tipos de lacunas e questões na documentação e na apresentação dos candidatos. Então, além de contribuir um pouco com a divulgação, pensei também em deixar aqui algumas dicas genéricas.
A questão fundamental a ser considerada é que processos seletivos são sempre fortemente competitivos (muito mais gente do que vagas), então, para que o candidato tenha as melhores chances, precisa estar bem informado e mostrar isso da melhor forma possível.
Pode parecer óbvio, mas, sinceramente, não é o que se vê sempre. Ocasionalmente, fica bem claro para nós, avaliadores, que a documentação foi feita na última hora, sem muito cuidado – como fica bem óbvio que a preparação para a prova também deixou muito a desejar. No caso de provas escritas (na Educação da PUC-Rio, apenas a seleção de mestrado prevê uma etapa dessa natureza), geralmente há uma bibliografia indicada, que precisa ser estudada. Porém, na hora da correção, sempre vemos exemplos de respostas que sugerem que o candidato nem olhou os textos… É uma pena: um gasto inútil (pois a maioria dos candidatos terá estudado, e provas são sempre eliminatórias) e um desgaste improdutivo (encarar uma prova sem ter estudado em meio a muitos outros que se prepararam adequadamente).
Isso tem sido mais raro, na minha experiência. Contudo, o que não é nada raro – e aí começam os comentários sobre as lacunas – é a falta de atenção a detalhes.
Em geral, um edital é um documento relativamente longo e detalhado, e é preciso estar atento ao que é pedido. Por exemplo, é preciso tomar cuidado com a formatação de documentos (pré-projeto, memorial, etc.), com a própria lista de documentos (é preciso entregar tudo que é pedido, obviamente), com datas, detalhes de contato para esclarecimento de dúvidas, ou seja, é preciso ler e atender às demandas do edital. Sem isso, candidaturas podem ser (e são, infelizmente) recusadas logo de início ou, até mesmo, em alguma etapa já adiantada do processo.
Assim como o estudo cuidadoso de textos indicados para a prova, se houver, e a preparação de documentação dentro das orientações do edital em consideração, é essencial que o candidato se familiarize com o Programa de Pós (PPG) para o qual está se candidatando.
Uma das perguntas mais comuns em entrevistas (em qualquer entrevista, na verdade, uma pergunta para a qual o candidato deve sempre se preparar) é a seguinte: “por que você escolheu este PPG?” Uma resposta bem fundamentada a essa pergunta é sempre esperada, e, para isso, o candidato precisa estar minimamente informado sobre o programa: suas linhas de pesquisa, que definem o escopo das pesquisas conduzidas no programa, os grupos de pesquisa, que delineiam áreas temáticas dentro dessas linhas, e, por fim, o trabalho dos docentes, que coordenam grupos, desenvolvem pesquisas e orientam projetos. As possibilidades de orientação nem sempre são explicitadas em editais (alguns editais definem o número de vagas oferecidas por cada docente do programa, mas não é o caso dos nossos), mas, minimamente, espera-se que qualquer candidato a uma vaga em um PPG tenha alguma noção acerca das pesquisas nele desenvolvidas.
Acho meio constrangedor entrevistar pessoas que não têm a menor ideia sobre o programa no qual pretendem ingressar, principalmente se for um candidato ao doutorado. Não é uma questão de o candidato já escolher o orientador (essa nem sempre é a prática), mas sim de mostrar que compreende, minimamente, que a pesquisa é um processo social, ou seja, não é algo que se faz sozinho, isolado do resto do mundo. Todos os PPG têm sites próprios, com listas de grupos e links para suas páginas ou sites de grupos, links para os respectivos currículos Lattes dos professores, enfim, há informações importantes na Web para o candidato acessar com um mínimo de mineração.
Resumindo as dicas:
1- Leia o edital com muita atenção;
2- Visite o site do programa no qual quer ingressar e se informe sobre as linhas de pesquisa, grupos de pesquisa e docentes, com atenção redobrada a projetos e publicações;
3- Visite o currículo Lattes dos docentes cujas linhas de pesquisa e grupo lhe pareçam interessantes e consistentes com o que você gostaria de estudar; em particular, se o edital ao qual você quer se candidatar explicita vagas por docentes, você precisa caprichar nessa familiarização com o escopo do trabalho e produção dos professores. Se não, identifique a linha e os docentes com os quais sua proposta mais se aproxime, e familiarize-se com as temáticas das pesquisas em curso, inclusive, lendo publicações do(s) grupo(s).
4- Organize sua documentação com antecedência, revise tudo que escrever e confira no edital que ela está completa e dentro do formato exigido.
Não é tão complicado, mas exige tempo e cuidado.
Por fim: para saber mais sobre o processo seletivo de mestrado e doutorado do Dept. de Educação da PUC-Rio, especificamente, clique na imagem abaixo.
Aproveito para explicar que a alocação de orientação em nosso PPGE é feita apenas no final do processo seletivo, pelo Colegiado de Pós, então questionamentos preliminares de possíveis candidatos não influenciam nem o processo, nem a alocação.